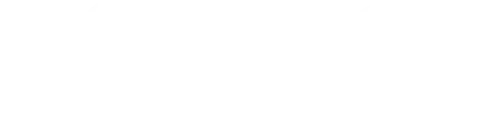Vestiário do ginásio da Gávea (na época, o único do clube), após o treino do time de vôlei do Flamengo. O ano era o de 1971; o mês de julho. Buscava eu uma toalha, quando vislumbrei nosso roupeiro encolhido num canto, radinho de pilha colado ao ouvido, desligado do resto do mundo. Me aproximei e ele sussurrou, com um sorriso largo: “O Zico está estreando no time de cima”!
Claro, todo atleta rubro-negro sabia quem era o Zico. O lourinho da minha idade que fazia a torcida chegar mais cedo ao Maracanã, só pra assistir às suas diabruras, nos jogos do campeonato juvenil, disputados nas preliminares. Ele era a grande esperança da maior torcida do país, que vivia anos difíceis, de amplo predomínio do Botafogo, do Fluminense e até do Bangu — o último título do Fla tinha acontecido em 1965.
Naquela noite, o Fla venceu o Vasco por 2 a 1 e o gol da vitória foi do desengonçado Fio Maravilha, em passe de Zico. Simbólico: o início da carreira de um e o (o próximo) fim da história folclórica do outro. Prenúncio de troca de guarda. Estava chegando a era dos craques de verdade. Mas não tão rapidamente…
Lançado por “Don Fleitas Solich”, Zico foi devolvido aos juvenis quando Zagallo assumiu, em 1972, ano em que o Flamengo voltaria a ser campeão, com um time em que pontificavam Paulo César Caju e o argentino Narciso Doval. Naquela temporada e na seguinte, chegou a fazer alguns jogos entre os profissionais, mas foi a partir de 1974, já com Joubert como treinador, que se firmou de vez, assumindo a camisa 10, que tinha sido de Dida, o grande artilheiro que era o seu ídolo.
Ir ao Maracanã deixou de ser, então, para os rubro-negros, sinônimo de sofrimento, como vinha sendo na maior parte dos anos 60 e início dos 70. Bem ao contrário, virou certeza de prazer.
Antes de me tornar jornalista, vi Zico campeão pela primeira vez em 1974. O time nem era tão bom, mas a dupla de ataque formada por ele e pelo Diabo Louro Doval enchia os olhos. E havia ainda Geraldo Assoviador no meio-campo. Um jovem de imenso talento, como Zico — que, infelizmente, morreria dois anos mais tarde numa simples operação de amígdalas.
Já como repórter, em 1976, eu estava atrás do gol à esquerda das tribunas quando o camisa dez perdeu o pênalti na decisão da Taça Guanabara contra o Vasco (Geraldo desperdiçaria outro, em seguida, sepultando as chances rubro-negras e dando o título aos cruz-maltinos). Mas desde o ano anterior (1975), Zico já começara a despontar como o artilheiro que se tornaria o maior da era do velho Maracanã, com a incrível marca de 333 gols em 435 jogos.
Foi a partir de 1978 que se iniciou a espetacular sequência de títulos do Flamengo, que culminaria com o Mundial Interclubes, em 1981, passando pela Libertadores (no mesmo ano) e por três títulos brasileiros (1980, 1982 e 1983). Dia de Zico era dia de show no “Maior e Mais Belo Estádio do Mundo”, como costumava repetir em seus bordões, o famoso locutor Waldir Amaral.
“Golaço, aço, aço!”, não se cansava de urrar outro grande “speaker” da época, Jorge Curi, assumidamente rubro-negro e fã do “Galinho de Quintino”, como inspiradamente o “batizou”. Difícil dizer quais foram seus gols mais bonitos. Raro era o “Galo” fazer um gol feio. Ou deixar de marcá-los.
Por causa de seu impressionante índice de aproveitamento no estádio, parte da imprensa paulista, movida por inveja e bairrismo, apelidou-o de “craque do Maracanã”, sugerindo que fora dele, pouco fazia. Pois sim. Nos três títulos brasileiros que ganhou antes de se transferir para a Udinese (e até no quarto, em 1987, após sua volta), Zico se cansou de balançar as redes do Morumbi, do Pacaembu, do Brinco de Ouro, do Moisés Lucarelli e de onde mais jogasse em São Paulo, ou em qualquer outro estado do Brasil. Nos campos da paulicéia, entretanto, parecia haver um gostinho especial, por causa da tola provocação do início de carreira.
O principal estádio carioca, contudo, acabaria se tornando mesmo o seu maior palco e a alcunha “Craque do Maracanã” deixou de ser pejorativa para se tornar justa homenagem. Foi lá que o vi fazer gols decisivos em três das quatro finais de Brasileiro das quais participou: 3 a 2, sobre o Atlético Mineiro; 1 a 1, no primeiro jogo contra o Grêmio (a taça viria após mais duas partidas no Olímpico) e 3 a 0 sobre o Santos, quando atuou contundido e já sabendo que estava negociado para o futebol italiano.
Com Zico em campo, o lado esquerdo do estádio estava sempre em estado de graça, pronto para explodir de emoção e alegria. Suas cobranças de falta se tornaram uma marca inesquecível e são citadas até hoje pelos craques que o sucederam (como fez Petkovic, naquele chute magistral, “à la Zico”, aos 43 minutos da decisão do Campeonato Carioca de 2001, contra o Vasco.
Seria exagero dizer que Arthur Antunes Coimbra foi o melhor jogador que vi no velho e inesquecível “Maraca” — afinal, diante dos meus olhos desfilou algumas vezes naquele gramado o Rei Pelé, o “Deus de todos os Estádios”, como o chamava Waldir Amaral. Mas que o “Galo” foi o supercraque que me permitiu contemplar, naquele campo, o maior número de lances sublimes pelo mais longo período de tempo, nem se discute.
Por isso, no coração dos rubro-negros que tiveram a benção de vê-lo em ação haverá sempre a doce lembrança da arquibancada estremecendo, quando no velho placar eletrônico surgia o número 10 e a voz rouca do locutor da Suderj, anunciava: ZICO.
(* Texto escrito para a revista especial sobre o Maracanã, publicada hoje no GLOBO)
Fonte: Blog do Renato Mauricio Prado